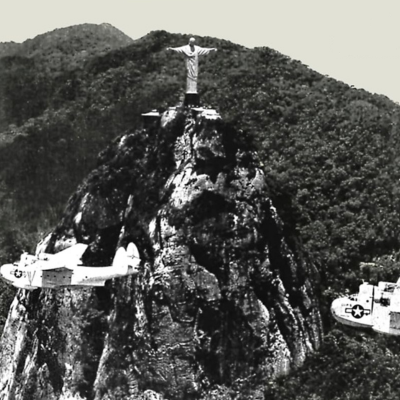
ERRATA: "Trincheira tropical", de Ruy Castro
Errata no livro "Trincheira tropical", de Ruy Castro, que narra a Segunda Guerra Mundial no Rio
 Rafaela Martins 4-min.jpg)
As pessoas me dirigem um olhar enviesado quando digo que não sabia o que estava fazendo ao escrever Paraízo-Paraguay, publicado em 2019. Tinha comigo ainda o conceito de Enclave, um livro de poemas anterior, publicado em 2018, que trazia consigo uma ideia de o sul do Brasil crer-se diversos enclaves de países europeus que não existem mais. Um exemplo é o da cidade onde nasci, Blumenau, que se vale de tradições antigas, ou mesmo extintas, dos reinos germânicos, mas condecora essas manias com a bandeira da Alemanha moderna – por falta de entendimento, talvez, de seu próprio anacronismo.
De poeta a ficcionista, acompanhei, mais do que ninguém, aquele livro ganhar tamanho e força, principalmente por ser seu editor e solicitar novas impressões à gráfica. Mas também acompanhei, enquanto autor, as respostas da gente do sul e de fora dele, ora argumentando que a história da família inominada era a história de sua própria família, ora de pessoas de outras regiões do país me dizendo que não tinham a menor ideia de que o Brasil comportava ainda falantes do alemão, do italiano, do polonês…
Paraízo-Paraguay, uma antissaga teuto-brasileira, mostrou a mim mesmo que a literatura tem sim seu poder de colocar em debate questões às quais estamos aparentemente acostumados, mas, em persistindo o incômodo inominado, muitas vezes não temos a oportunidade de descrever. Paraízo… foi e é isso, uma tentativa de dar nome a diversos incômodos sentidos onde a moral protestante e a decadência econômica vivida pelo descenso da pujante indústria têxtil deixou milhares de pessoas órfãs de sentido.
Enquanto este primeiro romance alcançava seu público leitor, e porque eu já percebia que ele sombrearia qualquer coisa que eu escrevesse na sequência e que se parecesse com aquilo. Foi por isso que mantive guardada a ideia de escrever sobre o integralismo, coisa que somente faria depois de Três porcos, e me daria ao luxo de escrever meu primeiro livro em primeira pessoa.
Aqui foi que se deu a fuga. Aqui, também, se deu o primeiro reencontro.
Porque escrever tem disso: planeja-se mais ou menos, mas planeja-se; o que não se sabe é onde tudo aquilo pode e vai terminar. Três porcos surgiu de inúmeros gatilhos e se pretendia uma autoficção sobre violência sexual na infância e os desdobramentos disso na vida de um menino-homem. Eu mesmo. Foi outro livro que tomou uma grandiosidade desproporcional. Pessoas debateram a respeito, outras pessoas me encurralaram com suas próprias histórias de abusos sofridos. E eu entendi, finalmente, que escrever em primeira pessoa traz consigo riscos às vezes muito sérios.
De Deus não dirige o destino dos povos não vou falar agora. É este o livro que trata do integralismo em Santa Catarina.
Mas, outra vez após o término de um romance histórico, me vi perdido entre o que eu gostaria de trazer à tona [existem originais inéditos que demonstram isso] e o que eu gostaria de consertar – mesmo que não tenha conserto, posto que é impossível refazer memórias ou os fatos que deram origem às memórias. E foi tendo isso por certo que comecei a escrita de Memória do chão, romance em que mais uma vez passo a palavra a um protagonista-narrador de nome Rafael, tal qual em Três porcos, e que fala de outro período que não mais a infância, mas sua adolescência vivida de maneira mais própria impossível.
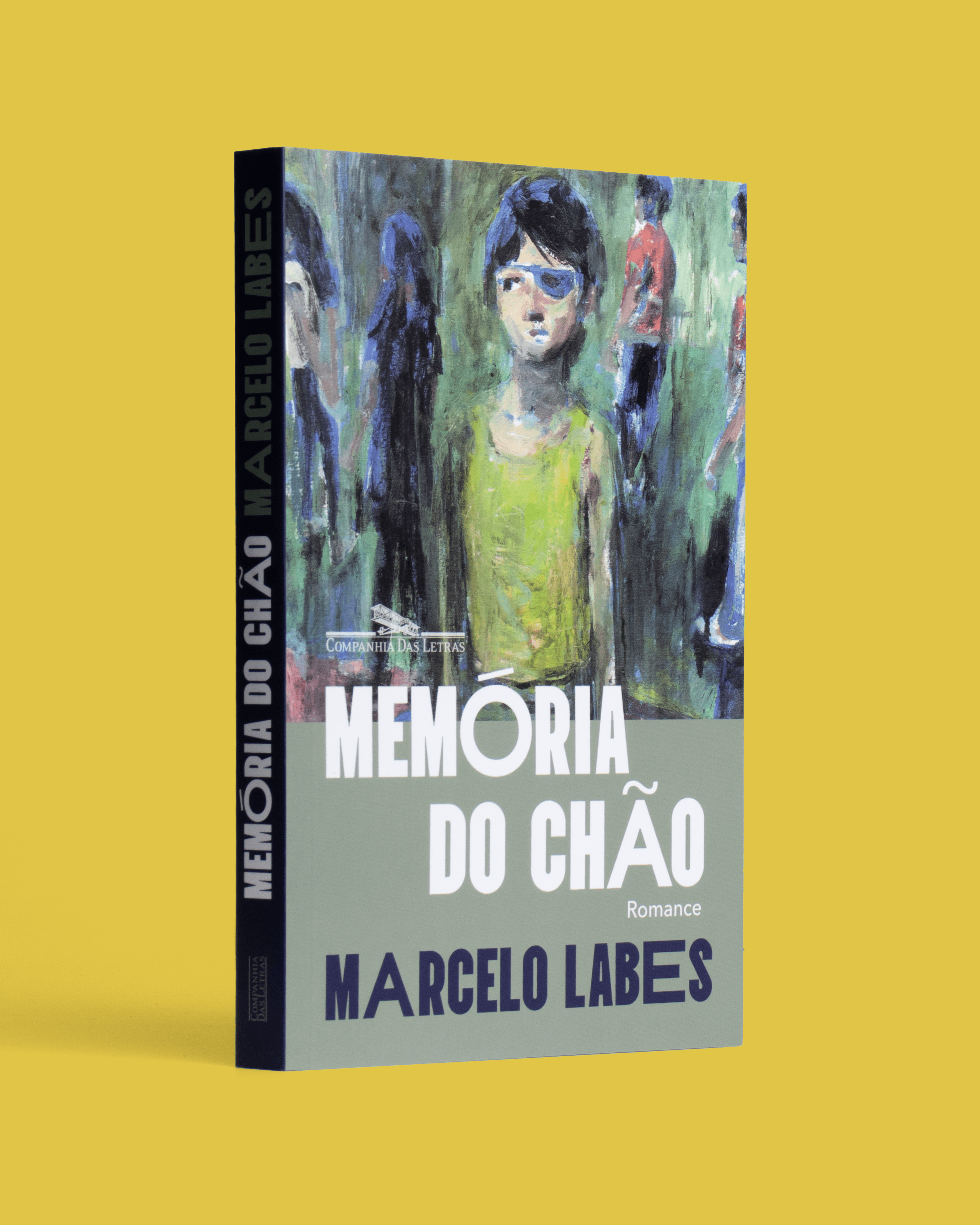
Rafael e eu saímos de casa aos catorze anos para estudar em um colégio interno misto – com meninas e meninos – numa cidade do interior do Rio Grande do Sul. O ano era 1999. Num dia, habitávamos nossas casas, convivíamos com as nossas certezas; no outro, éramos um e outro entre diversos uns e outros caminhando pelos corredores da Evangélica, temendo o que era para ser temido, seguindo as regras, dividindo quartos e tristezas, sonhos e amores. Memória do chão talvez pudesse ser resumido a isso: três anos vividos dentro de uma escola confessional de cujas paredes emanavam música erudita, artes cênicas, alta literatura e alcoolismo juvenil.
Eu já havia escrito um livro de vingança antes e imaginava seriamente que chegaria novamente ao mesmo lugar: valer-me da violência contra meus algozes, ainda que simbólica, como gesto final de tentativa terapêutica. Calhou de eu encontrar outros caminhos na escrita deste livro. Memória do chão não é uma tentativa de refazer Três porcos. Antes, é sua continuidade. E como toda continuidade, esta se mostra diversa e para além do lugar de onde partiu.
Por mais de vinte anos conto a mesma história às pessoas: tenho este sotaque porque vivi num internato no Rio Grande do Sul, onde estudei meu Ensino Médio. E conto outras histórias, as que contém fugas, as que contém bebedeiras, as que falam de uma distância no tempo que é sempre maior, mas que pode ser interrompida quando nos reencontramos, eu e meus ex-colegas. De alguma forma – detesto dizer isso – mágica, o passar dos anos não afeta quem éramos. De alguma forma – mágica ainda –, mantemos dentro de nós aqueles meninos de catorze, quinze, dezesseis anos de idade.
Escrever a respeito do que aconteceu dentro da Evangélica – forma carinhosa como chamo a escola – foi uma tarefa maior do que reencontrar, através de minhas palavras, meus abusadores da infância. Porque envolve muita gente, certamente, mas porque me exigiu uma colagem de memórias que nunca havia ousado fazer. Como dar sentido a fatos soltos e tentar reconectá-los depois de tanto tempo? Como transfigurar personagens que na verdade foram pessoas com quem dividi meus dias por três anos, dia após dia?
Certa feita, um professor de literatura me perguntou se o que eu havia escrito em Três porcos deveria ser chamado autoficção, escrita de si ou autobiografia. Disse a ele – e diria novamente, caso a pergunta me fosse feita por Memória do chão – que isso cabia a eles, acadêmicos, debater. A mim, cabia seguir juntando memórias e escrevê-las em livros. Ele pareceu não gostar da resposta. Eu nunca me debrucei realmente sobre a pergunta.
Memória do chão resultou no meu livro mais bonito. É o meu quarto romance, o segundo autoficcional. Mas também o primeiro em que o acerto de contas do qual me vali como premissa se esboroou durante o processo de escrita. Talvez tenha tentado levar para as páginas do romance, pela primeira vez, um tom menos duro e incapacitante, permitindo que se vejam as personagens mais do que quem as escreve – e escreve a si mesmo –, permitindo que se veja ali o adolescente e as adolescências todas vividas num lugar tão próprio e já quase esquecido no tempo por quem ali viveu comigo o mesmo.
—
MARCELO LABES nasceu em 1984, em Blumenau (SC). Publicou Paraízo-Paraguay (2019), vencedor do prêmio São Paulo de Literatura, Três porcos (2020), ganhador do prêmio Machado de Assis, O nome de meu pai (2021), Amor de bicho (2021) e Deus não dirige o destino dos povos (2023), todos pela Caiaponte Edições. Seu livro de poesia Enclave (Patuá, 2018) foi finalista do prêmio Jabuti. Estreia no catálogo da Companhia das Letras com o romance Memória do chão.
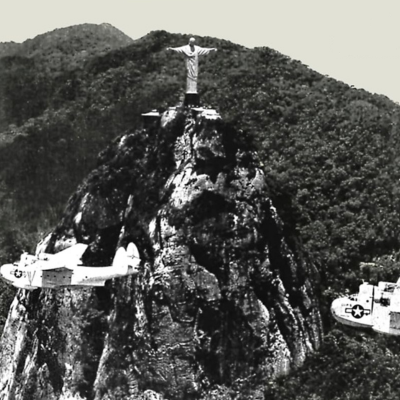
Errata no livro "Trincheira tropical", de Ruy Castro, que narra a Segunda Guerra Mundial no Rio

be rgb compartilha sobre seu processo ao longo da tradução de "O tempo das cerejas"

Meritxell Hernando Marsal compartilha sobre os desafios do processo de tradução de "O tempo das cerejas"